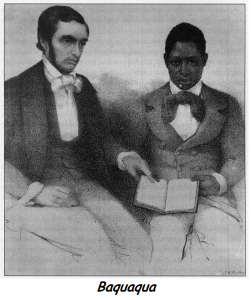Canibalismo no Brasil
A antropofagia praticada pelos grupos tribais do Brasil revestia-se de caráter exclusivamente ritual. As notícias fornecidas pelos cronistas do século XVI dão conta de sua importância na organização social indígena como fator indispensável aos ritos de nominação e iniciação. Estas sociedades eram estruturadas em função da guerra, essas tribos desenvolveram uma escala de estratificação social em que a aquisição de status baseava-se fundamentalmente na capacidade de perseguir e matar o maior número possível de inimigos.
O adversário capturado vivo era conduzido à aldeia dos vencedores e ali mantido prisioneiro durante um período no qual todas as honras e privilégios lhe eram concedidos: era designado uma mulher para lhe fazer companhia e os melhores alimentos eram colocados a sua disposição.
Durante vários dias, preparavam-se a festa em que o prisioneiro seria executado segundo cerimônia solene. A execução, com violento golpe de borduna, cabia a quem o houvesse capturado, podendo ser por este transferido a alguém merecedor de tal obséquio, em sinal de agradecimento ou homenagem.
Ao prisioneiro, competia manter-se altivo e valente, retrucando as provocações e insultos numa demonstração de total indiferença ante o fim próximo. O executor ganhava, então, direito ao uso de mais um nome, e seu corpo era incisado de modo indelével, para que se perpetuassem a sua coragem e o seu valor. Dessa forma, acreditavam que, ao comer a carne de um inimigo guerreiro, iriam assim adquirir o seu poder, seus conhecimentos e as suas qualidades.
Para ser considerado herói, não bastava ao índio da tribo Urubu, do Pará e Maranhão, capturar o inimigo. Tinha também de ser o carrasco e para tanto deveria dançar suportando, sem gemer, ferroadas de vorazes formigas presentes em faixas atadas em sua testa e cintura. Enquanto dançava enormes vespas eram atiradas sobre ele.
O pirata inglês Anthony Knivet fez uma descrição detalhada da execução de prisioneiros pelos índios. Tendo sido capturado com mais doze portugueses, ele relatou:
Duas horas depois levaram um dos portugueses, amarraram-lhe outra corda à cintura e conduziram-no a um terreiro, enquanto três índios seguravam a corda de um lado e três do outro, mantendo o português no meio. Veio então um ancião e pediu a ele que pensasse em todas as coisas que prezava e que se despedisse delas pois não as veria mais. Em seguida veio um jovem vigoroso, com os braços e o rosto pintados de vermelho, e disse ao português: “Estas me vendo? Sou aquele que matou muitos do teu povo e que vai te matar.” Depois de ter dito isso, ficou atrás do português e bateu-lhe na nuca de tal forma que o derrubou no chão e, quando ele estava caído, deu-lhe mais um golpe que o matou. Pegaram então um dente de coelho (provavelmente de capivara), começaram a retirar-lhe a pele e carregaram-no pela cabeça e pelos pés até as chamas da fogueira. Depois disso, esfregaram-no todo com as mãos de modo que o que restava de pele saiu e só restou a carne branca. Então cortaram-lhe a cabeça, deram-na ao jovem que o tinha matado e retiraram as vísceras e deram-nas às mulheres. Em seguida, o desmembraram pelas juntas: primeiro as mãos, depois os cotovelos e assim o corpo todo. Mandaram a cada casa um pedaço e começaram a dançar enquanto todas as mulheres preparavam uma enorme quantidade de vinho. No dia seguinte ferveram cada junta num caldeirão de água para que as mulheres e as crianças tomassem do caldo. Durante três dias nada fizeram a não ser dançar e beber dia e noite. Depois disso mataram outro da mesma maneira que lhes contei, e assim foram devorando todos menos eu.
.............................................................................................................
Todos os portugueses, inimigos dos Tamoio, foram executados. Ele se salvou porque disse que era francês, um aliado.
Além do caráter ritual, a ingestão da carne do inimigo era também considerada a mais completa forma de vingança, como pode ser visto no trecho abaixo, escrito por Hans Staden, no século XVI:
Fazem isto, não para matar a fome, mas por hostilidade, por grande ódio, e quando na guerra escaramuçam uns com os outros, gritam entre si, cheios de fúria: “Debe marãpá Xe remiu ram bengué, sobre ti caia toda desgraça, tu és meu pasto. Nde acanga jucá aipotá curi ne, quero ainda hoje moer-te a cabeça. Xe anama poepica que Xe aju, aqui estou para vingar em ti a morte dos meus amigos. Nde rôo, Xe mocaen será ar eima riré, etc.,tua carne hoje ainda, antes que o sol se deite, deve ser meu manjar”. Isto tudo fazem por imensa hostilidade.
Quando perguntados por que guerreavam contra outras tribos os índios diziam que era para vingar seus antepassados que tinham sido mortos por elas. Alegavam que comiam os prisioneiros para se vingarem dos seus entes que tinham sido devorados por aqueles inimigos
Algumas tribos devoravam a carne dos inimigos como parte de ritual ou por vingança, mas outras encaravam a carne humana como apenas outro alimento, como relatou o pirata inglês Anthony Knivet (1560-1649), que viveu no Brasil de 1592 a 1601:
Pode-se encontrar esses canibais nos rios São Francisco, São Miguel e Santo Antonio. Eles também comem carne humana, mas não fazem as mesmas cerimônias dos potiguares e de outros canibais.
Habitando o Amazonas e a Colômbia, os Miranha alegavam que devoravam a carne humana simplesmente por ela ser mais um tipo de carne disponível na natureza. Achavam um absurdo o fato dos europeus não comerem carne de macaco e, jocosamente, diziam que a carne dos brancos não era lá grande coisa, uma vez que era azeda.
Algumas vezes índias das tribos captoras engravidavam do prisioneiro e o destino da criança variava de tribo para tribo. Em algumas a criança era devorada junto com o prisioneiro e no caso de nascer depois do sacrifício do pai era devorada ao nascer. Em outras tribos as crianças eram alimentadas até atingirem tamanho adequado para serem mortas. Ainda em outras elas eram deixadas vivas, mas não podiam participar do dia a dia da aldeia e alimento por ela tocado era desprezado pelos índios. Contudo, algumas tribos tratavam com grande deferência os filhos de prisioneiros mortos, já que acreditavam que eles eram tão valorosos quanto seus pais
Com a vinda dos missionários jesuítas, esses costumes foram fortemente combatidos, por serem incompatíveis com os valores e padrões da sociedade europeia. O costume de comer carne humana foi proscrito e reprimido pela força, com grave dano para um tipo de organização social em que a antropofagia desempenhava relevante função como processo de aquisição de prestígio e ascensão social.
Os europeus, inclusive os jesuítas, que chegavam às Américas na época da colonização ficavam horrorizados com a prática do canibalismo pelos indígenas, desconhecendo ou fingindo desconhecer que o mesmo havia sido largamente praticado na Europa na Idade Média, devido principalmente à escassez de alimentos.
Hoje em dia, a tribo dos ianomâmis ainda conserva o hábito de comer as cinzas de um amigo morto em sinal de respeito e afecto.
Quanto à ingestão de cinzas de mortos pelos indígenas, alguns estudiosos atribuem este costume à identificação mística entre homens e plantas. Os indígenas notaram que o emprego de cinzas dos vegetais queimados na coivara davam vigor às novas plantas e deduziram que a ingestão das cinzas dos entes mortos lhes permitiria adquirir e perpetuar as boas características do defunto.
Se um índio ficava doente, sem esperança de cura, a própria família dos Tapuia do Maranhão o matava e comia, acreditando que o estavam salvando de uma morte lenta e dolorosa e que seus restos mortais estariam melhor nos corpos dos parentes do que enterrados, onde apodreceriam.
No século XVII indígenas do Recife comiam fetos abortados e quando a criança nascia normalmente, a mãe comia o cordão umbilical e a placenta cozidos. Crianças que morriam eram comidas pela própria mãe, num ato de compaixão e amor. Quando algum parente morria era assado e devorado pelos familiares e os ossos eram guardados para serem posteriormente moídos e ingeridos. Os cabelos eram calcinados e as cinzas bebidas com água. Moças que passavam da idade de se casar e não achavam pretendentes eram defloradas pelo chefe. Se no processo havia perda de sangue ele era bebido pelo chefe, o que consistia em grande honra. Fonte:
http://mentedehorror.hol.es/index_2.html